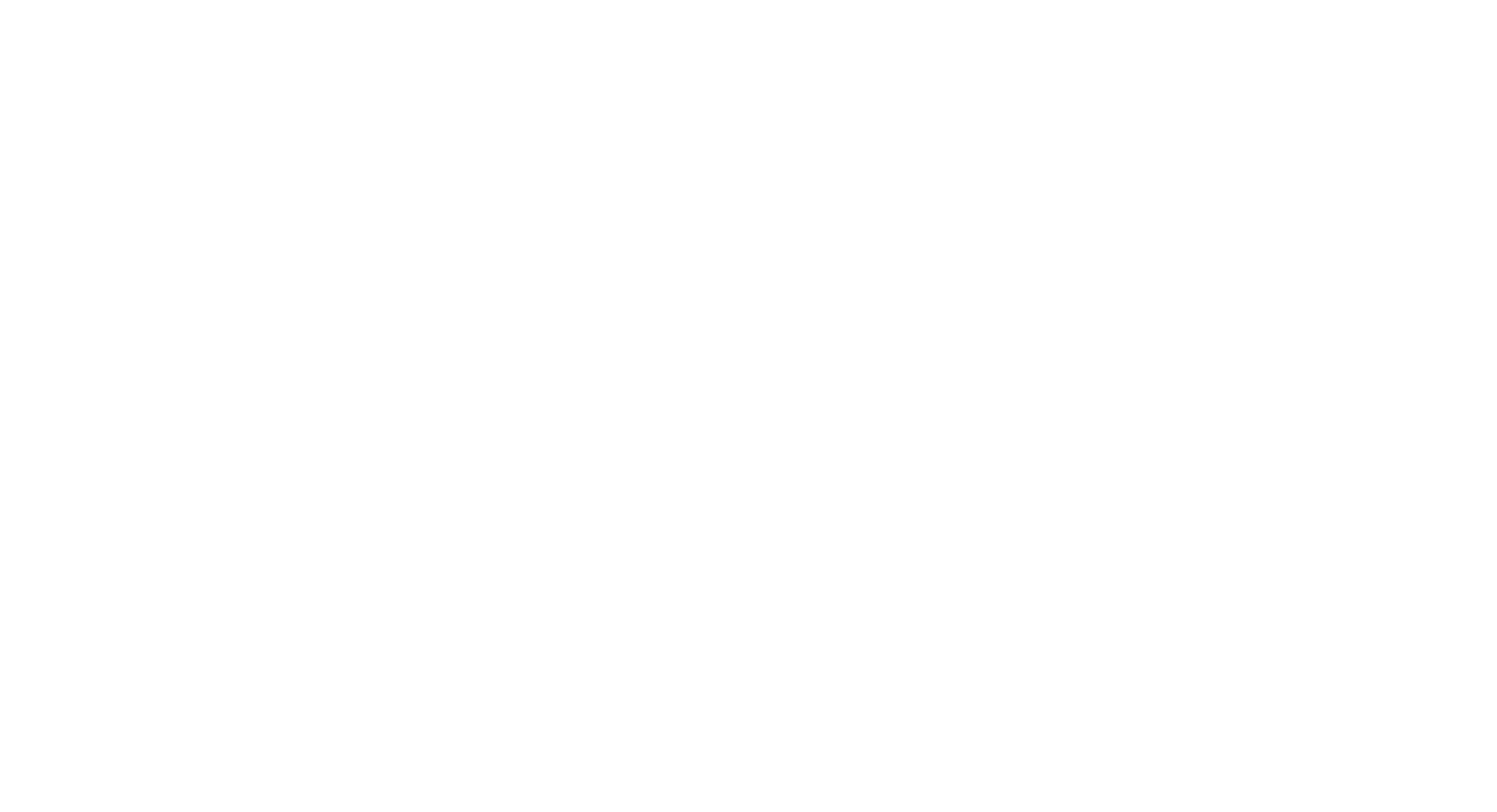Atenção: este texto contém spoilers do filme!
Nos últimos meses, foi impossível evitar ser bombardeada pelo marketing de “Barbie”. Não importa qual seu sentimento pela sexagenária boneca, do acarajé à pizza, tudo foi pintado de rosa. A cada view no material promocional, minha expectativa crescia. Eu esperava um filme engraçado, baseado no feminismo liberal e com contraditórias doses de sátira ao feminismo branco.
Agora, que acabo de sair da sessão, estou (EU) tomada por uma onda contraditória. “Barbie” é tudo e nada do que ele promete ser, ao mesmo tempo.
Tudo começa na apresentação do dia a dia da Barbie. A contradição já vem ao mostrar as tarefas diárias desse estereótipo de mulher perfeita, sendo narrada por Lizzo, uma mulher negra e gorda, considerada ‘imperfeita’ aos olhos dos padrões sociais . De cara, já podemos ver que a decisão de Greta Gerwig, diretora do filme, não foge ao fato desse ser um filme sobre uma boneca – roupas, comida, móveis, carros, cenários, tudo é de brinquedo e não há vergonha nisso.
Somos introduzidos ao mundo de mulheres que ocupam todas as profissões possíveis, e todas estão, igualmente, felizes. Das coletoras de lixo à presidenta (Issa Rae, maravilhosa!). A classe trabalhadora e as patroas vivem em harmonia. Na agenda do dia ensolarado de Barbie, ela vê suas amigas ganhando prêmios Nobel, advogando, jogando vôlei, lançando livros e tudo termina numa festa onde Barbies negras, gordas (uma), trans (uma) e cadeirantes (uma) dançam de forma coreografada, sugerindo uma festa do pijama só para garotas. Tudo isso enquanto os Kens lutam pela atenção delas, num cenário tão, bizarramente, fora do que vemos, no dia a dia, que só pode ser descrito como feminismo reverso. Se o racismo reverso “existe”, então homens-acessórios podem existir também.
O dia seguinte me fez sentir como se estivesse assistindo a um carrossel de uma caixinha de música pegando fogo. Barbie tem bafo, bebe leite vencido e dá com a cara no chão, ao invés de voar. Desesperada, após uma cena de vômito coletivo (FLAT FOOT!), Barbie visita, então, uma das alegorias mais interessantes do filme.
A “Barbie esquisitona” é o resultado de quem “brincou demais” com as bonecas – tem o cabelo picotado, riscos de canetinha na cara, roupas desordenadas e está, sempre, fazendo espacate. Todas as gentis Barbies a chamam de esquisita, sem pudor, e ela não demonstra, exatamente, se importar. Nessa micro sociedade, ela representa as mulheres rejeitadas por serem quem são e parece estar em paz com isso. Perfis como o dela aparecem, outras vezes, em Barbieland, como a Midge, a Barbie Grávida que foi tirada da linha porque ninguém queria ver uma Barbie grávida. Em outro ponto do filme, também vemos outras Barbies indesejadas, no quartel da boneca “esquisitona”.
Na missão de se salvar, Barbie deve ir ao mundo real para encontrar quem está brincando com ela e fazendo com que se sinta estranha. Com isso, vai confrontar a maior mentira que sustenta sua cidade perfeita: a de que ter a Barbie ocupando todas essas profissões resolveu todos os problemas das mulheres no mundo real e o feminismo havia sido instalado com sucesso. Tem uma crítica, aí, em algum lugar, sobre representatividade, mas não precisamos ir a fundo nessa. Ken, que está na sua própria cruzada para se provar especial, se infiltra na missão e atravessa os mundos com um carro, um cavalo, um jet sky, uma nave espacial e uma bicicleta.
No mundo real, os dois se deparam com (acreditem) a realidade. Enquanto Barbie anda de patins, pela Venice Beach, é assediada com um tapa na bunda. Ken é lido como gay ao usar roupas coloridas. Em outro momento, os outros homens o parabenizam por ter alguém como a Barbie ao seu lado. Após pequenos delitos, os dois são presos e, lá, – vejam só -, os policiais, também, assediam a Barbie. Para ela, tudo está de cabeça para baixo e, para o Ken, esse novo mundo dá, a ele, o protagonismo sempre sonhado.

Quando, finalmente, parece ser o fim da missão, ela conhece, em primeira mão, sentimentos ruins por meio de um discurso, digno de parte do Twitter povoado pela geração Z, que deixa a minha geração lacração milenial no chinelo. Seguranças da Mattel entram em cena e levam a boneca até a sede mundial da empresa e é, lá, que entra a melhor personagem do filme: Glória. Sasha, a gen Z de discurso purista, que chegou a chamar a Barbie de facista, é sua filha, mas quem está brincando com a boneca, na verdade, é ela (Glória).
Me lembrou muito a minha própria experiência com as bonecas. No meu contexto, mãe e filhas negras, vindas da classe C, com uma mãe que não teve a oportunidade de brincar de boneca por toda sua infância, a brincadeira era coletiva. A boneca era minha, mas minha mãe me ensinou a costurar roupas, buscava os acessórios nas lojas de R$ 1,99 e me ouvia contar histórias, depois de horas montando as casinhas. A minha mãe achou importante me dar uma Barbie, mesmo que de forma tardia (eu já passava dos 10 anos e não via mais tanta graça em brinquedos), porque era um sinal de sucesso para minha mãe. E, por tabela, me senti bem sucedida também. Ah… as recompensas do capitalismo.
Então, a culpa é de Glória – ela se vê como uma mãe entediante, com um emprego entediante e com uma filha que a odeia e, depois de imaginar cenários com a boneca onde ela tinha idealização de morte, celulites e vazio existencial, isso se tornou realidade para sua Barbie, em Barbieland. A solução, então, é voltar para a terra rosa e mostrar para essas duas meninas que um mundo onde as mulheres importam é possível e, assim, inspirar a mãe desesperançada.
Acontece que, quando Barbie volta para casa, Ken já espalhou a palavra do patriarcado e seu mundo tomou um banho de loção pós barba com cheiro de lenhador. Entre um mar de potes de Whey, regatas e uma obsessão estranha por cavalos, Ken ensinou a todos a norma do nosso universo e, depois de traçar um paralelo com a colonização, Barbie, Glória e Sasha percebem que tudo está perdido.
É, então, que o impensável acontece. Diante da derrota para o patriarcado e sua estética cafona, Barbie entra em depressão. Ela, literalmente, senta e chora. Isso cumpre a profecia dos posts anti-feminismo, ao mesmo tempo em que os novos produtos hiper masculinos voam das prateleiras. Nota extra para a propaganda da “Barbie Depressiva”, a última vez que vi comerciais sobre experiências vividas, tão bem feitos, aconteceu em “WandaVision”.

O que quebra esse ciclo é, justamente, um emocionante discurso de Glória sobre as agruras de ser uma mulher. O texto passeia pelas micro agressões diárias e machismo estrutural.
Nesse momento, vemos um dos postos-chaves do motivo pelo qual esse filme deve ser um sucesso e por que Amy Schumer, possivelmente, estava certa quando disse que “o filme não era nem feminista, nem legal” antes de cair nas mãos de Greta. Minutos de uma mulher latina descascando o sexismo, num cenário Malibu, soariam forçados ou falsos, há alguns anos. O mundo não estava pronto para isso, as feministas não estavam prontas para isso, as liberais não estavam prontas pra isso. O Barbiecore, derivação estética do femmecore, não tinha entrado, ainda, para a lista de coisas das quais mulheres poderiam gostar, já que a negação do feminino, por muito tempo, era a norma do ativismo pelo direito das mulheres. Hoje em dia, todo mundo sabe que o salto alto foi inventado por homens, que a depilação nasce para controlar o corpo da mulher e que a maternidade é compulsória, mas também sabemos que as mulheres lutam, justamente, para ter o direito sobre si mesmas e tomarem essas decisões de forma autônoma.
É igual toda vez que balanço a raba ouvindo funk – uma mão no joelho e outra na consciência.
Ao fim, o patriarcado é derrotado com um jogo de sedução junto a uma votação na suprema corte. Ken começa uma jornada de autoconhecimento, e Barbie, agora a humana Bárbara, enfrenta um desafio tão grande que me faz perder o sono: uma ida ao ginecologista.
Fim. Enquanto rolavam os créditos, fui absorvendo as piadas declaradas. Toda a diretoria da Mattel é formada por homens brancos. Xenofobia apontada em Dojo Casa House. O voice over apontando que a atriz principal não é a pessoa ideal para representar feiura ou depressão. O murro nas costelas nos Snyderfans. As variadas deixas que nos mostram que a figura masculina é insignificante nessa bolha.
Pausa para pontuar a performance de America Ferrera na pele de Glória. Dos jeans viajantes à versão americana de Betty a Feia, America sempre entrega. Aliás, palmas a todo o elenco: Ryan e Margot, claro, mas também Hari Nef, Sharon Rooney (My Mad Fat Diary ♥️), Emerald Fennel, Alexandra Shipp, Kingley Ben-Dir, Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells (o puxadinho Sex Education), todos brilhantemente escalados. Direção artística e trilha sonora são mais que cereja do bolo. Greta Gerwig pode dar boas vindas para sua 4ª e 5ª indicações ao Oscar pelo roteiro e direção, e assim mostrar a qualidade que o movimento Mumblecore foi capaz de produzir.
Mas nada disso ressoa tão alto em mim como o fato de quem “salva o mundo” são duas mulheres latinas. Num mundo racialmente binário (barbies indianas, islâmicas, amarelas e vermelhas não existem), as escolhidas como reais heroínas vêm do feminismo do fim do mundo. Talvez isso indique a sensibilidade de Greta para o movimento “Phenomenally Latina”, que muitas atrizes sustentaram em camisetas pretas. Talvez seja o algoritmo do capital buscando novos mercados. Minha aposta está no segundo.
Por isso, é preciso dizer que nem todos os tons degradê de rosa foram capazes de cobrir o que de fato o contexto por trás da história na silver screen. Barbie é o que de melhor o capitalismo pode fazer pelas mulheres. É uma boa distração, é de fato melhor que tudo que nos foi vendido até agora e espero que seja uma boa porta de entrada para leituras mais pesadas sobre a libertação das mulheres. Por enquanto ele é isso, diveritido e Cindy Lauper, como todas nós, sabemos que mulheres só querem um pouco de diversão. Que bom que agora, ao menos, o capitalismo faz piada de si mesmo.
O capitalismo, o girl power e o feminismo são cor de rosa. Resta saber quem sobrevive.