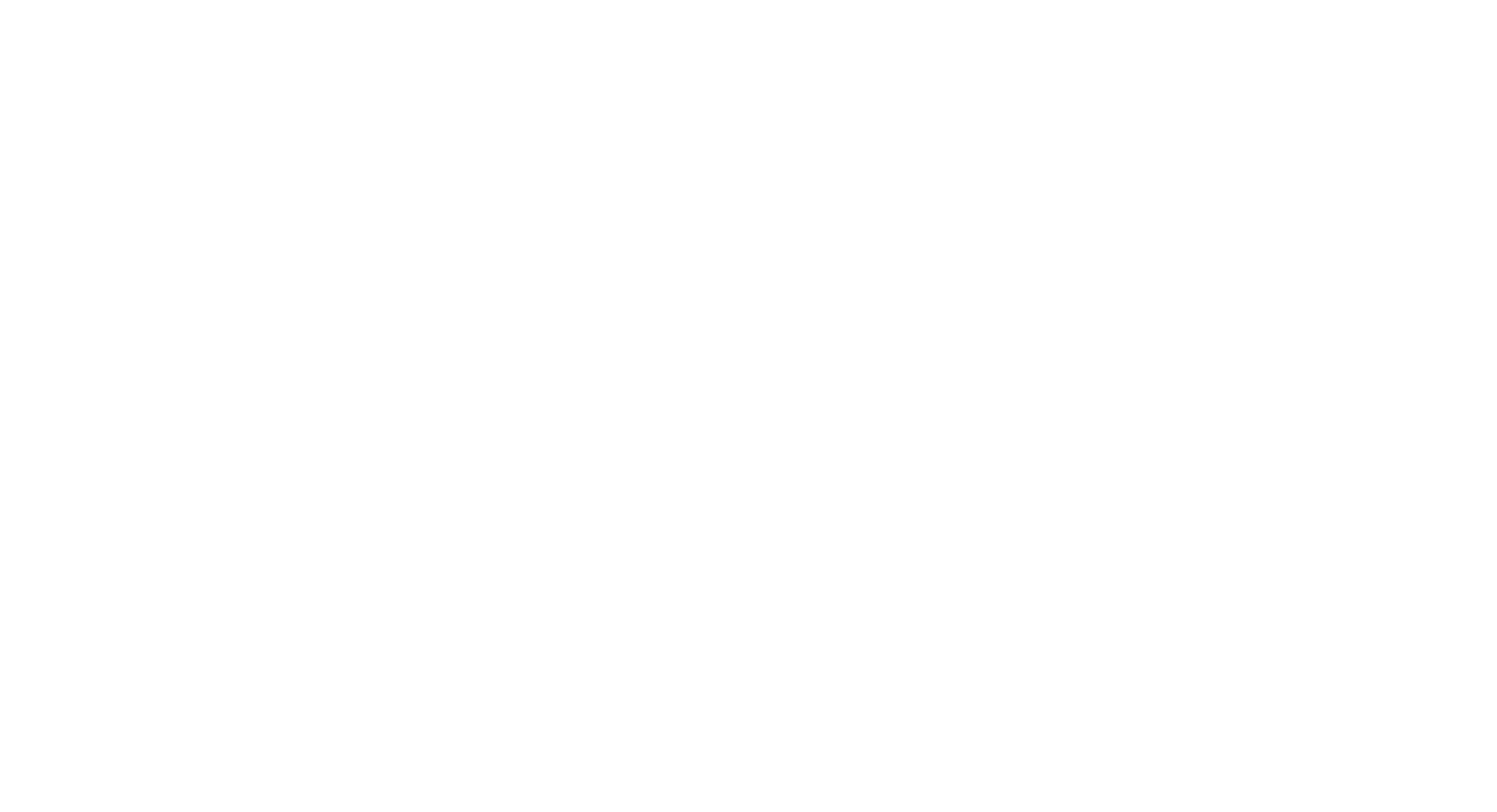Lançado no ano da derrota da tese que aliviou a pena de seu assassino, filme não alcança a potência da história da ‘pantera’

Por Dríade Aguiar
A falta de memória sobre o nosso passado é um defeito crônico dos brasileiros e brasileiras. É por esse fator que temos uma relação deturpada com nossos colonizadores, é por isso que não buscamos a verdade sobre os crimes atrozes da ditadura, é por isso que ‘Vale a Pena Ver de Novo’ funciona.
Esse pouco interesse por nosso passado também teria montado a cama perfeita para “Ângela”, filme que conta a história do feminicídio de Ângela Diniz, crime que chocou o país nos anos 70. Nós, os millenials, só nos interessamos por crimes que surgiram antes do Google se vierem num formato de série de true crime ou podcast de oito episódios feito por uma produtora com DNA jornalístico.
Então vamos lá, na sexta-feira à noite, desviamos do conchavo da Warner para empurrar “A Freira 2” goela abaixo do público brasileiro e entramos numa sessão com 50% dos assentos vendidos em um cinema nos arredores do Allianz Parque em São Paulo.
Entrei animada, saí destruída.
Durante a sessão, alterno entre pequenas risadas sacanas, como as de quem sabe quem é este desgraçado interpretado por Gabriel Braga Nunes, e pigarros, respirações profundas, balançadas de pernas e outros espasmos não voluntários pelo desconforto de ver o que está sendo projetado à minha frente. Assistir a cenas de violência nunca é confortável. Ver elas sendo feitas de forma clichê, menos ainda.
Enquanto a trama se desenrola, me desconecto do filme e penso se mulheres em torno de mim na plateia se identificavam com as berrantes bandeiras vermelhas do comportamento de Raul. Fico tentando prever os espasmos da mulher à minha frente, ouvir os suspiros pesados da mulher atrás de mim, tentando ler os pensamentos da mana do meu lado… Procurando entre nós, a conexão que não estava sentindo ao ver o filme.
Ouço Ângela se descrevendo como uma mulher voadora, enquanto Raul nada no mar cintilante de Búzios/Porto Seguro, traçando um antagonismo macabro. São nesses momentos que vemos que o leito perfeito da não-memória acabou se tornando uma cama de faquir. Hugo deveria entender de mulheres, é diretor não só de Ângela, mas também da cinebiografia de Elis Regina. Mesmo assim, olhando a mulher voadora pairando no céu, ele não parece alcançar a complexidade da história da pantera mineira.
Alguns recursos usados para ilustrar o quanto Ângela tinha um gênio difícil e adorava ser o centro das atenções, só poderiam existir porque a lente é de um homem (male gaze), principalmente quando assistimos a um festival repetitivo de cenas de sexo que não adicionam muito à história. Lembro neste momento que é a segunda vez que Isis Valverde passa por esse looping sexual, quando sua personagem protagonizava uma cena sensual na novela “Amor de Mãe” dia sim, dia não.
Aliás, a presença de Isis é uma das coisas que me faz sentir que o filme cumpre um papel. Sua parceria com Alice Carvalho dá certo e a conexão dessas duas mulheres dá fôlego para história, mesmo me sentindo desconfortável ao ver uma mulher branca chamando sua empregada de “bocuda” e esperando ser lida como um elogio. Relevo porque entendo que estamos falando de uma mulher que deixa homens, mulheres e outras criaturas em sua volta desconfortáveis mesmo, principalmente em tempos sem o politicamente correto pairando sobre nossas cabeças.

Quando está claro que estamos vendo uma pessoa em frangalhos, vemos Ângela se chamar de mulher vulto e quase rio com a ironia. Ela está certa: Esta Ângela na tela é um vulto da Ângela que realmente existiu. Gasto minutos tentando entender porque o roteiro passa de forma rasa pelas partes mais icônicas da história da socialite. Ou porque a cena de seu assassinato é tão anti-climática e corrida. Porque raios se gasta tanto tempo construindo os visuais de um relacionamento abusivo e não demonstrando a luta por justiça desencadeada por isso?
Que tipo de lição o diretor quer nos passar quando o sofrimento leva o filme todo e seu justiçamento dura algumas linhas brancas sob tela?
O assassinato da pantera foi um dos grandes impulsionadores da luta feminista contra o feminicídio no Brasil no século passado, que inclusive atravessaram décadas antagonizando a tese da “legítima defesa da honra” e só ganharam em 2023. Milton Villas Boas, Doca Street, Evandro Lins e Silva e tantos outros homens tentaram moldar a história de Ângela, como se ela tivesse se “auto-assassinado”.
No ano de uma vitória importante que começa em 1976, o filme perde a oportunidade de ir contra a fila de homens que traiu a imagem não só dessa, mas das milhares de mulheres vítimas de feminicídio por ano em nosso país.
Enfim, o filme acaba e a conexão que busquei tanto criar com as espectadoras veio na ida ao banheiro pós-sessão. Quinze mulheres entre fila, pias e sanitários, todas em silêncio. Olhar vazio, andando devagar, deixando a água lentamente cair pelas mãos. O tempo parece que parou ali para que todas nós pudéssemos absorver um medo coletivo que temos concretizado – aparentemente, quem ama, mata. Fico pensando se havia alguém com receio de sair dali e voltar para perto de seu companheiro ou se uma delas se lembrou de alguma amiga que passa por alguma e dose do que foi retratado no filme.
Já eu, saio do banheiro pensando que o filme foi mais uma prova de que existem histórias que apenas mulheres são capazes de contar.
Mulheres voadoras não podem ser descritas por homens âncoras do mar.